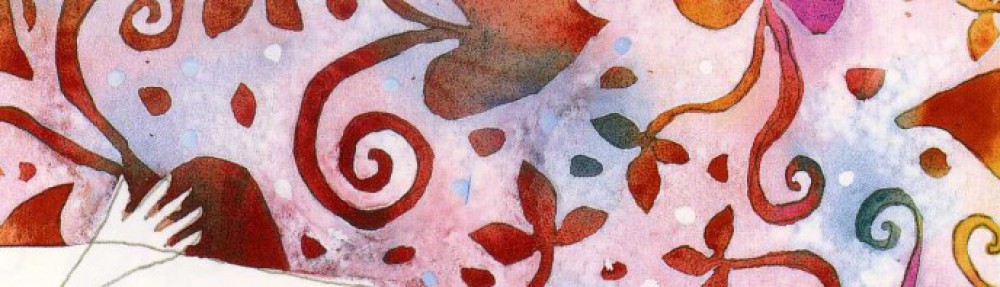Tensões étnico-políticas
A Europa no Rescaldo da Segunda Guerra Mundial
Nas suas memórias do final dos anos 40 e dos anos 50 do século XX, publicadas depois da sua morte na sequência do famoso «assassinato do chapéu-de-chuva», em Londres, no ano de 1978, o escritor dissidente búlgaro Georgi Markov contava uma história emblemática do período do pós‑guerra – não só do seu país mas da Europa como um todo. Envolvia uma conversa entre um dos seus amigos, que tinha sido preso por confrontar um funcionário comunista que tinha passado à frente na fila do pão e um oficial da milícia comunista búlgara:
«E agora diz-me quem são os teus inimigos?», perguntou o chefe da milícia.
K. pensou durante algum tempo e respondeu: «Não sei, acho que não tenho inimigos.»
«Não tens inimigos!» O chefe levantou a voz. «Estás a querer dizer que não odeias ninguém e que ninguém te odeia?»
«Tanto quanto sei, ninguém.»
«Estás a mentir!», gritou, de súbito, o tenente-coronel, levantando-se da sua cadeira. «Que tipo de homem és tu, se não tens inimigos? Claramente não pertences à nossa juventude, não podes ser um dos nossos cidadãos, se não tens inimigos!… E se, de facto, não sabes como odiar, ensinar-te-emos! Ensinar-te-emos muito depressa!»
Em certo sentido, o chefe da milícia desta história tem razão – era praticamente impossível emergir da Segunda Guerra Mundial sem inimigos. Dificilmente se pode fazer melhor demonstração do que esta do legado moral e humano da guerra. Depois da devastação de regiões inteiras; depois da chacina de mais de 35 milhões de pessoas; depois de inúmeros massacres em nome da nacionalidade, da raça, da religião, da classe social ou do preconceito pessoal, quase todas as pessoas do continente tinham sofrido algum tipo de perda ou injustiça. Mesmo os países que tinham assistido diretamente a poucos combates, como a Bulgária, tinham sido sujeitos a tumultos políticos, lutas violentas com os vizinhos, coerção da parte dos nazis e, por fim, a invasão por uma das novas superpotências do mundo. Por entre todos estes eventos, odiar os rivais tinha-se tornado absolutamente natural. De facto, os líderes e propagandistas de ambos os lados tinham passado seis longos anos a promover o ódio como uma arma essencial para alcançar a vitória. Na altura em que este chefe da milícia búlgara aterrorizava os jovens estudantes da Universidade de Sófia, o ódio já não era um mero subproduto da guerra – dentro da mentalidade comunista tinha sido elevado a um dever.
Havia muitas, muitas razões para não se amar o vizinho no rescaldo da guerra. Podia ser alemão, caso em que seria injuriado por quase toda a gente, ou poderia ter colaborado com os alemães, o que era igualmente mau: a maior parte da violência, no rescaldo da guerra, foi dirigida contra estes dois grupos. Podia adorar o deus errado – um deus católico ou um ortodoxo, um deus muçulmano, um deus judeu ou deus nenhum. Podia pertencer à raça ou nacionalidade erradas: os croatas tinham massacrado os sérvios durante a guerra, os ucranianos tinham eliminado os polacos, os húngaros tinham suprimido os eslovacos e quase todos tinham perseguido os judeus. Podia ter as crenças políticas erradas: tanto fascistas como comunistas tinham sido responsáveis por inúmeras atrocidades através do continente e, tanto fascistas como comunistas, tinham sido sujeitos a uma repressão brutal – tal como aqueles que subscrevem quase todos os tons de ideologia política entre estes dois extremos.
A simples variedade de ressentimentos existentes em 1945 demonstra não o quão universal tinha sido a guerra, mas sim o quão inadequada é a nossa forma tradicional de a entender. Não basta retratar a guerra como um simples conflito entre o Eixo e os Aliados por questões de território. Algumas das piores atrocidades da guerra não tinham nada a ver com território, mas tudo a ver com raça e nacionalidade. Os nazis não atacaram a União Soviética apenas pela questão de Lebensraum (espaço vital): também era uma expressão da sua vontade de assegurar a superioridade da raça alemã sobre os judeus, ciganos e eslavos. Os soviéticos também não invadiram a Polónia e os Estados Bálticos apenas por causa do território: queriam levar o comunismo tão para ocidente quanto possível. Alguns dos combates mais violentos não foram travados entre o Eixo e os Aliados, mas entre os habitantes locais que aproveitaram a oportunidade apresentada pela guerra mais vasta para dar vazão a frustrações muito mais antigas. Os ustashe croatas combateram em nome da pureza étnica. Os eslovacos, os ucranianos e os lituanos combateram pela libertação nacional. Muitos gregos e jugoslavos lutaram pela abolição da monarquia – ou pela sua restauração. Muitos italianos lutaram entre si para se libertarem dos grilhões do feudalismo medieval. A Segunda Guerra Mundial foi, como tal, não apenas um conflito tradicional por território: foi, ao mesmo tempo, uma guerra de raças e uma guerra de ideologias e estava entrelaçada com meia dúzia de guerras civis travadas por motivos única e exclusivamente locais.
Tendo em conta que os alemães eram apenas um dos ingredientes nesta vasta sopa de diferentes conflitos, é lógico que a sua derrota não tenha trazido um fim à violência. De facto, o ponto de vista tradicional de que a guerra terminou quando a Alemanha se rendeu, finalmente, em maio de 1945 é muitíssimo enganador: na realidade, a sua capitulação encerrou apenas um aspeto dos confrontos. Os conflitos com ela relacionados sobre raça, nacionalidade e política prolongaram‑se durante semanas, meses e, por vezes, anos. Os gangues italianos continuavam a linchar fascistas no final dos anos 40. Os comunistas e os nacionalistas gregos, que tinham começado os seus confrontos enquanto adversários ou colaboracionistas dos alemães, ainda se digladiavam em 1949. Os movimentos guerrilheiros ucraniano e lituano, nascidos no auge da guerra, ainda combatiam em meados dos anos 50. A Segunda Guerra Mundial foi como um enorme cargueiro que atravessava as águas da Europa: tinha tanto ímpeto que, ainda que os motores pudessem ter sido invertidos em maio de 1945, o seu percurso turbulento não seria interrompido senão vários anos mais tarde.
O ódio exigido pelo chefe da milícia búlgara, na história de Georgi Markov, era de um tipo muito específico. Era o mesmo ódio que os propagandistas soviéticos como Ilya Ehrenburg e Mikhail Sholokhov exigiam durante a guerra e que os comissários políticos tentaram promover entre as unidades do exército na Europa de Leste durante este período. Se o estudante que o chefe da milícia estava a aterrorizar tivesse algum conhecimento da teoria estalinista – algo que se tornaria uma parte central da educação dos estudantes búlgaros nos anos seguintes – saberia exatamente quem eram os seus inimigos.
A atmosfera furiosa e rancorosa que inundara a Europa no fim da guerra era o ambiente perfeito para desencadear a revolução. Por muito violenta ou caótica que fosse, os comunistas não viram nesta atmosfera uma maldição mas uma oportunidade. Antes de 1939, tinham existido sempre tensões entre capitalistas e trabalhadores, senhores e camponeses, governantes e súbditos, mas tinham sido questões normalmente localizadas e de curta duração. A guerra, com os seus anos de derramamento de sangue e privação, tinha inflamado estas tensões mais para lá de tudo o que os comunistas do pré-guerra poderiam ter imaginado. Grandes secções da população culpavam os seus antigos governos por as terem lançado do abismo para a guerra. Desprezavam os homens de negócios e os políticos por terem colaborado com os seus inimigos. E, quando grande parte da Europa estava à beira da fome, odiavam todos os que pareciam ter saído da guerra melhor do que eles. Se os trabalhadores tinham sido explorados antes da guerra, durante o conflito essa exploração atingiu os maiores extremos: milhões tinham sido escravizados contra a sua vontade e milhões tinham sido, de forma bastante literal, forçados a trabalhar até à morte. Não é de surpreender que tantas pessoas, por todo o continente, se tenham virado para o comunismo depois da guerra: o movimento era apelativo não só enquanto alternativa refrescante e radical ao que os políticos desacreditados tinham feito antes, mas também enquanto oportunidade para as pessoas libertarem toda a raiva e ressentimento que tinham acumulado durante aqueles anos terríveis.
O ódio era a chave do sucesso comunista na Europa, como os inúmeros documentos que apelam aos ativistas do partido para o promover deixam claro. O comunismo não se alimentou apenas da animosidade em relação a alemães, fascistas e colaboracionistas; também se alimentou de uma nova repulsa pela aristocracia e as classes médias, pelos terratenentes e os kulaks. Mais tarde, à medida que a guerra mundial se foi transformando, gradualmente, na Guerra Fria, estas paixões foram facilmente traduzidas numa repulsa pelos Estados Unidos, pelo capitalismo e pelo Ocidente. Em troca, todos estes grupos odiavam o comunismo em igual medida.
Não foram apenas os comunistas a entender a violência e o caos como uma oportunidade. Também os nacionalistas compreenderam que as tensões acesas durante a guerra podiam ser usadas para promover uma agenda alternativa – no seu caso, a limpeza étnica dos respetivos países. Muitas nações exploraram o novo ódio pelos alemães no rescaldo da guerra para expulsar as antigas comunidades volksdeutsch que, há centenas de anos, viviam na Europa de Leste. A Polónia aproveitou o ódio sentido durante a guerra contra os ucranianos para lançar um programa de expulsões e assimilações forçadas. Os eslovacos, os húngaros e os romenos embarcaram numa série de trocas populacionais e os grupos antissemitas exploraram a atmosfera de violência para expulsar do continente os judeus restantes. O que estes grupos desejavam acima de tudo era a criação de uma série de estados-nação etnicamente puros, através da Europa Central e de Leste.
Os nacionalistas nunca atingiram os seus objetivos no período que se seguiu à guerra – em parte porque a comunidade internacional não o permitiu, mas também porque as necessidades da Guerra Fria tinham prioridade sobre tudo o resto. No entanto, quando a Guerra Fria chegou ao fim, as antigas tensões nacionalistas vieram de novo à superfície. Questões que muitos julgavam mortas há muito regressaram, de súbito, à superfície com uma paixão que fazia com que eventos decorridos 50 anos antes parecessem ter decorrido no ano anterior.
Keith Lowe
Continente Selvagem – A Europa no Rescaldo da Segunda Guerra Mundial
Lisboa, Bertrand Editora, 2013